Extimid@des 13

Editorial
TRIUNFA A PULSÃO DE MORTE
M. Bernadette S. de S. Pitteri
 O mundo acompanha boquiaberto, com ar de dejà vu, a intensificação do conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza, repetição ad nauseam da mesma história, desde a saída dos britânicos da região. A atual espiral de violência desencadeou-se após o sequestro de três jovens judeus na Cisjordânia, num ataque atribuído ao Hamas (grupo islâmico que controla a Faixa de Gaza), e logo depois de um jovem palestino ser queimado por extremistas judeus. O barril de pólvora voltou a explodir e cruzaram os céus da Faixa de Gaza os foguetes do Hamas e os bombardeios de Israel, sem que jamais tenham cessado ofensivas terrestres, conflitos entre militares israelenses e civis palestinos (intifadas).
O mundo acompanha boquiaberto, com ar de dejà vu, a intensificação do conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza, repetição ad nauseam da mesma história, desde a saída dos britânicos da região. A atual espiral de violência desencadeou-se após o sequestro de três jovens judeus na Cisjordânia, num ataque atribuído ao Hamas (grupo islâmico que controla a Faixa de Gaza), e logo depois de um jovem palestino ser queimado por extremistas judeus. O barril de pólvora voltou a explodir e cruzaram os céus da Faixa de Gaza os foguetes do Hamas e os bombardeios de Israel, sem que jamais tenham cessado ofensivas terrestres, conflitos entre militares israelenses e civis palestinos (intifadas).
Motivos históricos, religiosos, políticos, materiais, levam israelenses e palestinos a disputarem a soberania da região. Há desacordo quanto à divisão de Jerusalém, a retirada dos colonos israelenses de terras palestinas, o retorno de refugiados das guerras árabe-israelenses a suas antigas terras e o reconhecimento da Palestina como estado independente.
 Confrontos entre árabes e israelenses são ancestrais, mas os embates entre esses povos de mesma origem étnica, recrudesceram no final do século XIX, quando o movimento sionista e o nacionalismo árabe começaram a ganhar forma. Seria simplista falar de guerra religiosa ou de ódio entre árabes e judeus, mas nada simplista é a pulsão de morte que reina soberana.
Confrontos entre árabes e israelenses são ancestrais, mas os embates entre esses povos de mesma origem étnica, recrudesceram no final do século XIX, quando o movimento sionista e o nacionalismo árabe começaram a ganhar forma. Seria simplista falar de guerra religiosa ou de ódio entre árabes e judeus, mas nada simplista é a pulsão de morte que reina soberana.
A grave situação da Palestina hoje, particularmente na Faixa de Gaza, enraíza-se nos estertores do Império Otomano e no posterior e desastroso mandato britânico na região. Com a queda do Império Otomano, a Inglaterra transforma a região em colônia britânica, institui um protetorado (apoio dado por uma nação a outra menos poderosa) na região pleiteada por palestinos e israelenses.
Com o início da Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos nazistas aos judeus, os problemas se agravaram; os judeus queriam fixar-se na Palestina, há muito território árabe.
Com os confrontos entre árabes e judeus, iniciaram-se discussões sobre formas de solucionar a questão. Em 1947, antes da saída dos britânicos, a Organização das Nações Unidas (ONU) dividiu o território, parte para judeus, parte para árabes. A insatisfação em torno desse mapa gerou uma guerra civil. Com a saída dos britânicos em 1948, países árabes vizinhos tentaram invadir Israel, mas ao final do conflito, os israelenses mantiveram seu território e os palestinos ficaram impossibilitados de criar seu próprio estado. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias entre Israel e as nações vizinhas, resultou na ocupação israelense da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém.
A guerra de 1967 parece ser o núcleo da problemática mais recente, dificultando a solução: pelas fronteiras de 67, Jerusalém oriental deveria pertencer aos palestinos, que a querem como capital, e a população de Israel está a ter Jerusalém como capital. Não há solução simples, se ambos querem o mesmo e de nada abrem mão.
O recrudescimento do racismo, já apontado por Lacan no Seminário 19, parece ter grande parte no conflito e Freud já apontava para o fato da impotência de argumentos lógicos diante dos interesses afetivos, o que deixa espaço ao reinado da pulsão de morte e explica em parte o fracasso das constantes investidas diplomáticas na região.
As amoras de Falstaff e o pão da guerra
Gilson Iannini1
 Sarajevo, 28 de julho de 1914. O Arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado. Era o estopim para a deflagração do que ficaria conhecida como a Primeira Guerra Mundial, que redesenhou o mapa Mundi e culminou com a derrota de Impérios que pareciam inquebrantáveis. No imaginário cultural do ocidente, no entanto, a Guerra de 1914 seria, em alguma medida, obscurecida pela Segunda Grande Guerra. Com efeito, foi a guerra de Hitler (somada ao horror inigualável do Holocausto) que culminou numa massa incalculável de produção cinematográfica, que ajudou a plasmar nossa memória social e nossa representação da guerra. No entanto, apesar de relativamente esquecida, a Guerra de 1914 deixou cicatrizes que ainda não foram curadas. Nem é preciso lembrar das guerras separatistas, que há duas décadas culminaram no desmantelamento da Iugoslávia, pois tais efeitos se fazem sentir bastante depois dos Balcãs. A grave situação da Palestina hoje, particularmente da Faixa de Gaza, deita raízes no desmantelamento do Império Otomano e, posteriormente, no desastroso Mandato Britânico na região, que durou até meados do século passado. Do mesmo modo, com o colapso dos Impérios Russo e Austro-Húngaro, outro país que mergulhou em guerra civil de forte cunho nacionalista foi a Ucrânia, que revive movimentos separatistas nesse exato instante em que escrevo. O recrudescimento dos diversos nacionalismos, que na última década encontraram eco nos delirantes programas de partidos da extrema-direita européia é outro exemplo, que faz ressoar os ecos das condições que precederam à eclosão da Guerra. Isso nos leva inevitavelmente à pergunta: o que aprendemos nestes 100 anos? Uma resposta genuinamente freudiana diria: nada, absolutamente nada. Como Walter Benjamin mostrou em um ensaio curto, mas definitivo, intitulado “Experiência e pobreza”: os homens voltavam mais pobres dos campos de batalhas, incapazes de compartilhar suas experiências. Escreve Benjamin: “essa pobreza de experiência não se manifesta apenas no plano privado, mas no de toda a humanidade. Transforma-se, assim, numa espécie de nova barbárie” 2. Os homens voltavam mudos dos campos: a guerra aprofundara a trincheira entre o real (traumático) e o simbólico (esvaziado).
Sarajevo, 28 de julho de 1914. O Arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado. Era o estopim para a deflagração do que ficaria conhecida como a Primeira Guerra Mundial, que redesenhou o mapa Mundi e culminou com a derrota de Impérios que pareciam inquebrantáveis. No imaginário cultural do ocidente, no entanto, a Guerra de 1914 seria, em alguma medida, obscurecida pela Segunda Grande Guerra. Com efeito, foi a guerra de Hitler (somada ao horror inigualável do Holocausto) que culminou numa massa incalculável de produção cinematográfica, que ajudou a plasmar nossa memória social e nossa representação da guerra. No entanto, apesar de relativamente esquecida, a Guerra de 1914 deixou cicatrizes que ainda não foram curadas. Nem é preciso lembrar das guerras separatistas, que há duas décadas culminaram no desmantelamento da Iugoslávia, pois tais efeitos se fazem sentir bastante depois dos Balcãs. A grave situação da Palestina hoje, particularmente da Faixa de Gaza, deita raízes no desmantelamento do Império Otomano e, posteriormente, no desastroso Mandato Britânico na região, que durou até meados do século passado. Do mesmo modo, com o colapso dos Impérios Russo e Austro-Húngaro, outro país que mergulhou em guerra civil de forte cunho nacionalista foi a Ucrânia, que revive movimentos separatistas nesse exato instante em que escrevo. O recrudescimento dos diversos nacionalismos, que na última década encontraram eco nos delirantes programas de partidos da extrema-direita européia é outro exemplo, que faz ressoar os ecos das condições que precederam à eclosão da Guerra. Isso nos leva inevitavelmente à pergunta: o que aprendemos nestes 100 anos? Uma resposta genuinamente freudiana diria: nada, absolutamente nada. Como Walter Benjamin mostrou em um ensaio curto, mas definitivo, intitulado “Experiência e pobreza”: os homens voltavam mais pobres dos campos de batalhas, incapazes de compartilhar suas experiências. Escreve Benjamin: “essa pobreza de experiência não se manifesta apenas no plano privado, mas no de toda a humanidade. Transforma-se, assim, numa espécie de nova barbárie” 2. Os homens voltavam mudos dos campos: a guerra aprofundara a trincheira entre o real (traumático) e o simbólico (esvaziado).

De fato, há exatos 100 anos, o continente que melhor havia implementado o programa das Luzes, com inimagináveis avanços não apenas industriais e científicos, mas sobretudo em que as mais altas realizações artísticas e culturais haviam sido conquistadas, submergia numa noite que parecia não ter fim.3 Os anos que precederam a eclosão do conflito de 1914 experimentavam uma cisão profunda: de um lado, fermentava o modernismo estético e social de inclinação cosmopolita e internacionalista, de outro lado, ganhavam fôlego ideologias nacionalistas. As primeiras notícias da guerra foram recebidas com certo entusiasmo pelas reinantes ideologias nacionalistas, saudosas das antigas virtudes heróicas, ciosas de mostrar a superioridade cultural em relação ao vizinho decadente. Nunca a expressão freudiana “narcisismo das pequenas diferenças”, havia ganhado contornos tão sombrios. Antes que mostrasse sua verdadeira face, a iminência da guerra inflara parcela considerável da população com um ardor febril, e a deflagração do conflito fora saudada por alguns eminentes intelectuais, cientistas, artistas, além, é claro, da grande imprensa. No famoso “Manifesto de Fulda”, nomes de peso da Ciência declararam seu incondicional apoio às ações militares alemãs. O Manifesto foi assinado por nomes de peso, muitos deles ganhadores de prêmios Nobel e entre seus 93 signatários, destacam-se nomes como Max Planck e Wilhelm Wundt. Alguns poetas também cantaram seu apoio à guerra. Contudo, a poesia modernista, em suas diferentes vertentes, foi essencialmente antibélica. Nisso, o diagnóstico dos poetas fora mais certeiro do que o dos demais intelectuais.4 Poucos se lembram que, por exemplo, Ludwig Wittgenstein alistou-se voluntariamente. Quase um prenúncio da profunda cegueira política, quase proverbial de muitos filósofos da linguagem. Em todo caso, não demoraria muito para que toda aquela febre fosse transformada em profunda desilusão. A Europa assistiria atônita a um desastre sem precedentes, em que o poderio das máquinas, pela primeira vez, era utilizado de maneira ostensiva, ocasionando perdas humanas incalculáveis.
Em Viena, Freud vivenciava a guerra com intensa apreensão e desilusão. Três de seus filhos combateram e dois deles, Ernst e Martin, em diversas batalhas. A duração inesperada dos confrontos iniciados em 1914, deixaria Viena numa situação de escassez de toda ordem. Não demoraria muito para que a família Freud precisasse recorrer à ajuda de amigos estrangeiros que enviavam alimentos, charutos e outros itens. Perto de completar 60 anos de idade, quando a guerra foi deflagrada, Freud não tinha muito o que fazer, senão continuar sua atividade clínica, ou o pouco que restou dela naqueles tempos difíceis. Dedicar-se às também poucas tarefas editoriais que ainda restavam, e escrever. Escreveu de maneira abundante. Não apenas textos psicanalíticos diversos e farta correspondência, mas escreveu até mesmo sobre o próprio fenômeno da guerra. Nos últimos tempos daquele período, não havia nem mesmo aquecimento em seu escritório, o que tornava a tarefa de escrever praticamente impossível, principalmente nos meses frios. Foi durante essa longa noite da guerra que alguns de seus mais brilhantes ensaios, e mais sistemáticos estudos foram escritos.
Interessado em investigar as consequências psíquicas da guerra, Freud examina a desilusão e a atitude diante da morte. Até mesmo a imparcialidade da ciência, afirma, é ameaçada pela devastação psíquica da guerra. Nosso intelecto só trabalha de maneira fiável quando protegido das ingerências do afeto. Nesse sentido, escreve: “logo, argumentos lógicos seriam impotentes perante os interesses afetivos e, por isso, a contenda com fundamentos [Gründen], que segundo Falstaff são tão comuns como as amoras, é tão infrutífera no mundo dos interesses. (...) A cegueira lógica que esta guerra magicamente provocou, justamente nos nossos melhores concidadãos, é, portanto, um fenômeno secundário, uma consequência da excitação dos sentimentos que esperamos poder ver desaparecer junto com ela” (Gesammelte Werke, Bd. X p. 339)5. A alusão à celeuma em torno do Manifesto de Fulda parece bastante clara.
Ganhar, perder
Alguns anos mais tarde, em 1930, Ernst Junger publica em Berlim uma coletânea de artigos chamada “Guerra e Guerreiros”. Walter Benjamin escreve uma dura resenha. Uma vez que o livro dedicava-se mais às causas da improvável, mas fatídica derrota alemã, do que das próprias raízes da guerra, Benjamin escreve: “Que significa ganhar ou perder uma guerra? É interessante o duplo sentido existente nas duas palavras. O primeiro, manifesto, refere-se com certeza ao desfecho; o segundo, porém, aquele que cria nela um estranho vazio, uma caixa de ressonância, contém a sua significação plena (...). E diz: o vencedor fica com a guerra, o vencido perde-a; o vencedor acrescenta-a ao que é seu, torna-a sua propriedade, o vencido deixa de tê-la, tem de viver sem ela”.6
Também em 1930, portanto quase duas décadas antes da fundação do Estado de Israel, a Palestina, que não fazia muito gozava de relativa prosperidade, vivia uma grande crise. A Agência Judaica conclamou Freud a subscrever sua crítica à política britânica para a Palestina. Desconfiado do nacionalismo, principalmente quando a este se somavam contornos religiosos, Freud escreve ao Dr. Chaim Koffler:
“Não posso fazer o que o senhor deseja. Sou incapaz de superar minha aversão a sobrecarregar o público com meu nome, e mesmo a presente época crítica não me parece autorizar isto. Quem quer influencia as massas deve-lhes dar algo vibrante e inflamador, e meu moderado juízo do sionismo não me permite isto. Certamente simpatizo com seus objetivos, orgulho-me de nossa Universidade em Jerusalém e me encanto com a prosperidade de nossa colônia. Mas, por outro lado, não penso que a Palestina possa se tornar um estado judaico, nem que os mundos cristão e islâmico estarão preparados para que seus lugares santos fiquem sob cuidado judeu. Para mim, teria parecido mais sensato estabelecer uma pátria judaica em uma terra menos sobrecarregada historicamente. Mas sei que esse ponto de vista racional nunca teria ganho o entusiasmo das massas e o apoio financeiro dos ricos. Admito com pesar que o fanatismo infundado de nosso povo deve ser em parte responsabilizado pelo despertar da desconfiança árabe. Não posso mostrar simpatia, de modo algum, pela crença mal-orientada que transforma uma parte do muro herodiano em relíquia nacional, assim ofendendo os sentimentos naturais do lugar”7.
O último grande trabalho de Freud, O homem Moisés e a religião Monoteísta, aplica o modelo temporal de instalação do sintoma neurótico (acontecimento traumático – recalcamento – período de latência – retorno do recalcado) à própria história do povo judeu. Não cabe aqui retomar as sutilezas da intrincada argumentação freudiana. Um dos passos mais obscuros do terceiro ensaio é a suposição de um longo período de latência, que teria durado alguns séculos, entre o assassinato de Moisés e a instalação do Monoteísmo mosaico. Essa “latência epistêmica”, para usar a expressão de J.-A. Miller, refere-se a uma espécie de não-querer-saber, que decorre do aspecto traumático do real. Talvez não seja exagero dizer que algo dessa latência esteve presente na forma do esquecimento da Primeira Grande Guerra, nos último 100 anos. Infelizmente, a conjuntura atual nos lembra que algumas dessas cicatrizes ainda não foram curadas. Como dizia Freud, a guerra desnuda as camadas de cultura que se depositaram nos homens pelo processo civilizatório e “faz vir à tona o homem primitivo em nós” (GW, Bd. X p. 354). Outra lição freudiana fundamental que deveríamos retomar hoje, é aquela que nos ensina que o que não podemos recordar e perlaborar, estamos condenados a repetir.
1 Psicanalista. Professor da UFOP. Editor da Coleção Obras incompletas de Sigmund Freud (Ed. Autêntica). Autor de Estilo e verdade em Jacques Lacan.
2 Benjamin, O anjo da história, Belo Horizonte: Ed. Autêntica, p. 86
3 Parte desse parágrafo foi publicado como Posfácio à edição bilingue de As pulsões e seus Destinos, de Sigmund Freud (Ed. Autêntica, 2013).
4 Cf. Hamburger, M. A verdade da poesia. SP: Cosac Naify, 2007, p. 207-209
5 Sempre que não houver indicação em contrário, as traduções de Freud são de Pedro Heliodoro Tavares
6 Benjamin, Teorias do fascismo alemão, op.cit. p. 115.
7 Citado por Yerushalmi, Y.H, O Moisés de Freud. Rio de Janeiro, Imago, 1992, p. 37.
O “conflito insolúvel” e a política do sinthoma
Ram Avraham Mandil
 Não há como ficar apático diante do que se apresenta como “o conflito entre Israel e Palestina”, agora em sua versão “conflito entre Israel e o Hamas”. É algo que tem o poder de afetar corações e mentes, de traçar uma linha divisória em várias partes do mundo, mobilizando partidários de um lado e de outro. Trata-se de um conflito que divide, o que lhe dá um caráter especial, de difícil representação, em que a verdade não pode ser toda dita por nenhuma das partes, e no qual o roteiro de destruição se apresenta vinculado à repetição.
Não há como ficar apático diante do que se apresenta como “o conflito entre Israel e Palestina”, agora em sua versão “conflito entre Israel e o Hamas”. É algo que tem o poder de afetar corações e mentes, de traçar uma linha divisória em várias partes do mundo, mobilizando partidários de um lado e de outro. Trata-se de um conflito que divide, o que lhe dá um caráter especial, de difícil representação, em que a verdade não pode ser toda dita por nenhuma das partes, e no qual o roteiro de destruição se apresenta vinculado à repetição.
Nesse momento, como é freqüente, escritores são convocados a dar seu parecer, a interpretar o que está acontecendo. Nestas horas, por alguma razão, eles parecem ter mais a dizer do que os políticos, ou do que os estudiosos do assunto. Não deixa de ser significativo que na “era do trauma”, quando estamos diante de uma perplexidade vivida em escala coletiva, com um pathos transbordante, são os escritores chamados à cena. É como se eles ainda preservassem algum resquício da dimensão oracular, como se fossem capazes de captar os sinais longínquos sob o ruído ensurdecedor do momento.
Nesta perspectiva, DR traz como referência artigos publicados recentemente na mídia, todos eles escritos no calor do conflito atual. É fácil perceber que os escritores não falam do mesmo lugar. Não respondem da mesma maneira ao real que emerge desse contexto.

O mais difícil é escapar da armadilha de pensar esse conflito, exclusivamente sob o prisma da relação entre vítima e algoz. Isso vale tanto para um lado, quanto para o outro. É um engano pensar que haja uma descontinuidade entre a vítima e o algoz. Nesse conflito, vemos nitidamente o caráter circular dessa relação. As vítimas de ontem são acusadas de se tornarem os algozes de hoje. O que não quer dizer que amanhã as posições não possam se inverter. A psicanálise nos informa que, a identificação com o inimigo, é um dos aspectos mais prevalentes da relação de rivalidade. A se manter nessa perspectiva, somos forçados a reconhecer que há uma atração especial, envolvendo vítimas e algozes (a 'Síndrome de Estocolmo' é uma de suas versões). E que em certas circunstâncias, essa relação pode desembocar na chamada “zona cinzenta”, identificada por Primo Levi em sua experiência concentracionária, na qual se torna impossível distinguir a vitima do algoz, pelo nivelamento forçado que a brutalidade da guerra, e de seus crimes produz.
Num certo sentido, podemos dizer que toda guerra é uma guerra entre vítimas, cada um enxergando no Outro o seu algoz. Sabemos também, o quanto isso está exacerbado no mundo contemporâneo. A previsão de Lacan de uma ascensão do racismo vem aqui se confirmar, ainda que sob nova roupagem. É o que o psicanalista Eric Laurent designou com a expressão “Racismo 2.0”1: como não sabemos mais o que é um homem, tentamos responder à esta questão, excluindo como homem aquele que tem um gozo distinto do meu. O que experimentamos no mundo contemporâneo não é um “choque de civilizações”, como enxergam alguns politólogos, mas um “choque de gozos”, com o consequente incremento de uma segregação generalizada que pode chegar à negação do direito de existência da diferença absoluta. É isto que alimenta e produz os novos warmongers, agora em escala planetária. E a história mostra que os “mercadores da guerra” no mais das vezes, estão mais interessados em assegurar o seu poder político do que propriamente garantir a vida digna de seus concidadãos.

A leitura do conflito pela ótica da vítima e de seu algoz, faz despertar outro afeto: a compaixão. Na melhor das hipóteses, quando consideramos a compaixão para além de seus usos estratégicos, ela é um apelo à humanidade, ou ao que resta de humano em meio ao ambiente de destruição geral.
No entanto, sabemos desde priscas eras que a compaixão nunca foi capaz de deter uma guerra. Diferentemente da “greve de sexo” das sábias mulheres de Atenas, a compaixão contribui muito pouco para se pensar num tratamento eficaz de qualquer conflito.
Ele exige outro tratamento, e é isso que de certa forma intui o escritor israelense David Grossman2. Sem perder de vista o “gozo do desespero” que invade a vida de todos os envolvidos, Grossman chama a atenção para um aspecto que permite enxergar este conflito de outro ângulo. Para o escritor, a verdadeira guerra não é a que se trava entre Israel e Palestina, ou entre judeus e árabes, mas entre aqueles que “querem viver em paz” e “aqueles que alimentam a violência destrutiva”, seja de qual lado estiverem. Em termos freudianos, para Grossman a verdadeira luta é aquela que opõe as forças de Eros e as forças de Thanatos, não importa a forma como elas estejam travestidas.
Como lidar politicamente com essas forças, sem desconsiderar – como Lacan já observara – que elas, em muitos momentos, convergem?
Nesse sentido vale a pena a leitura do artigo do escritor israelense Etgar Keret3, também ele, uma voz dissonante em relação à leitura bélica do conflito. Para o escritor, o que deve ser buscado é a perspectiva de um acordo, que não se confunde com os anseios ingênuos de uma paz na terra aos homens de boa vontade. Trata-se de um acordo a ser arduamente construído, fruto de “um diálogo trabalhoso e imperfeito” com o que não é reconhecido como próprio. Para o escritor, este diálogo só será possível acontecer a partir da constatação, de que a verdade é não-toda ( ou seja, de que nenhum dos lados do conflito é capaz de enunciá-la inteiramente). E, last but not least, para que este acordo seja possível é preciso que cada lado esteja disposto a pagar um “preço real e pesado”.
Para Keret, um acordo dessa natureza não seria pouca coisa “no mundo racista e violento em que vivemos”.
A meu ver, não se poderia dizer melhor, sobre o que é uma política do sinthoma.
2 Grossman, D. An Israel without illusions: stop the grindstone of Israeli-Palestinian violence. In: The New York Times, July 27th 2014. In: http://www.nytimes.com/2014/07/28/opinion/david-grossman-end-the-grindstone-of-israeli-palestinian-violence.html?_r=0
3 Keret, Etgar. Dê uma chance ao acordo. In: O Globo, 12 de julho de 2014, atualizado em 25 de julho de 2014. In: http://oglobo.globo.com/cultura/livros/etgar-keret-de-uma-chance-ao-acordo-13222782
É possível a ciência anti-guerra? Algumas considerações sobre o texto Science and War, de Brian Martin.
Glauci Gomes de Lima
 Em seu texto de 1930 “Por que a guerra?”1 , Einstein perguntava a Freud se seria possível livrar a humanidade da guerra. A guerra sempre ameaçou, destruiu e constituiu-se num mal quase insolúvel para a vida civilizada, a ponto de, a guerra instalada no Oriente Médio, parecer um beco sem saída, como afirma Zizek2. Ele compara o conflito entre israelitas e palestinos ao sintoma neurótico, no qual todo mundo vê o modo de vencer o problema, mas não se move para resolvê-lo, como se o benefício libidinal sinistro que sustenta o sintoma, não permitisse abrir mão deste lucro secundário.
Em seu texto de 1930 “Por que a guerra?”1 , Einstein perguntava a Freud se seria possível livrar a humanidade da guerra. A guerra sempre ameaçou, destruiu e constituiu-se num mal quase insolúvel para a vida civilizada, a ponto de, a guerra instalada no Oriente Médio, parecer um beco sem saída, como afirma Zizek2. Ele compara o conflito entre israelitas e palestinos ao sintoma neurótico, no qual todo mundo vê o modo de vencer o problema, mas não se move para resolvê-lo, como se o benefício libidinal sinistro que sustenta o sintoma, não permitisse abrir mão deste lucro secundário.
No texto “Ciência e Guerra”3, Brian Martin se propõe a discutir a relação entre ciência e guerra, destacando a importância dos fundos militares para a ciência e o impacto destes investimentos no direcionamento da mudança tecnológica e avaliação dos problemas científicos, além de comentar como a guerra e o sistema estatal influenciam a estrutura da comunidade científica. Será a ciência serva ou parte do sistema militar? Há influência das perspectivas militares nas atividades de cientistas antiguerras? O que almeja a ciência contra a guerra?
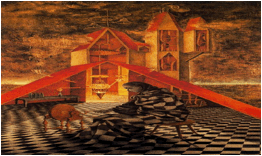
(Remedios Varo, Ciencia inútil o o alquimista.)
O texto fala dos altíssimos investimentos feitos pela guerra em investigações científicas, da duração das pesquisas e da instrumentalização do conhecimento científico para fins militares, o que não é encarado com a crítica necessária pelos cientistas. O autor se pergunta se a ciência é serva da guerra ou se ela própria seria parte da guerra. No desafio da ciência ao sistema de guerra, Martin destaca que as atividades dos cientistas pró-guerra não questionam de fato a natureza da ciência, em sua relação de sustentação e manutenção da guerra.
Seriam ineficazes os argumentos dos cientistas anti-guerra na tentativa de apelar a governos e elites, minando o sistema do qual eles gozam de status e poder? O sistema de guerra é baseado em privilégios e centralizações de poder, sustentados por este mesmo sistema. Igualmente ineficiente seria apelar para o público em geral, a partir do medo das guerras. Tal discurso não mobiliza o público ou desafia instituições como burocracias, sistemas de estado, militares e estruturas de poder e privilégios. O autor pensa que, eliminar a guerra sem reconstruir a sociedade, e eliminar as fontes da guerra é superficial: isto não leva a reexaminar os fundamentos da profissão e carreira do cientista.
Martin defende a possibilidade de levar a ciência à sociedade sem guerras, através da defesa social como alternativa à defesa militar: sugere resistência através da não- cooperação, greves, boicotes e manifestações. A ciência pacífica ajudaria a desmontar o sistema e o conhecimento anti-guerra seria disseminado, com ações diretas na desativação de armas, na conversão de produção militar para a produção de necessidades humanas. Saber desativar armas, executar sistemas de comunicação e sistemas de energia elétrica, conhecer pontos fracos e alternativas para as bases físicas do sistema de guerra, possibilitaria a troca da defesa militar pela defesa social. Dever-se-ia desmontar os sistemas de desigualdade econômica e exploração, as organizações hierárquicas, além da desigualdade política baseada em raça, sexo, classe ou conhecimento. A ciência precisaria deixar de ser uma ação financiada pelo governo, militarizada e ligada à burocracia. Deveria ser atividade das comunidades locais, feita participativamente, na dependência da promoção, da compreensão sobre a natureza, e da sociedade.
O texto apresenta uma visão interessante sobre a relação entre ciência e guerra, destacando, não só a posição servil da ciência à guerra, mas à participação da ciência na guerra. Eric Laurent4, na entrevista “Transformamos o corpo humano num novo Deus”, em relação às tecnologias da violência, fala da violência generalizada. Afirma que a destrutividade da violência no mundo da tecnologia é eficaz, com a eficácia maldita da pulsão de morte. A guerra pode ser entendida como a expressão do real sem lei5, sem orientação, sem direção, ponto enigmático que insiste em retornar, gozo inútil e acéfalo que pode levar ao pior.
A excelente discussão do autor sobre a aliança entre a guerra e a ciência, não deixa de tocar na clássica atribuição de causa ao capitalismo e seus efeitos no financiamento do trabalho científico para a sustentação das guerras, mas sua esperança na defesa social em lugar da defesa militar, pode esbarrar no mesmo ponto de impasse já alertado por Freud6, no texto de 1930. Em "O mal-estar na civilização", Freud advertiu sobre os riscos do imperativo de amor ao próximo, em seus efeitos de segregação e intolerância ao estranho gozo do próximo. Zizek7 argumenta que Jerusalém poderia se constituir, quem sabe, no lugar dos sem-lugar, não no lugar de um povo ou de outro. No seu entender, a solidariedade partilhada de um não-lugar poderia levar ao entendimento de que, combater o outro é combater ao que há de mais vulnerável em nossa própria vida. Quiçá, uma possibilidade para os cientistas anti-guerra seria enfrentar com seriedade, o fato de que a ciência a serviço da guerra não combate, mas intensifica a precariedade e a miserabilidade da nossa vida em civilização, incentivando atos inconsequentes, na busca desmedida de aniquilamento da diferença.
1 Freud, S. (1933 [1932]) Por que a guerra? Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
2 ______. Israel e o círculo de giz de Jerusalém. Disponível: http://blogdaboitempo.com.br/2014/07/25/zizek-o-circulo-de-giz-de-jerusalem/
3 Marin, Brian. Science and war. Disponível: http://www.bmartin.cc/pubs/83Birch.html.
4 Laurent, Eric. Transformamos o corpo humano num novo Deus. Disponível: http://ea.eol.org.ar/04/pt/template.asp?lecturas_online/textos/laurent_hemos_transformado.html
5 Veras, M. A ciência e o gozo inútil do capitalismo. Disponível: http://www.ipla.com.br/editorias/saude/a-ciencia-e-o-gozo-inutil-do-capitalismo.html.
6 Freud, S. (1930 [1929]) O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
7 ______. Israel e o círculo de giz de Jerusalém. Disponível: http://blogdaboitempo.com.br/2014/07/25/zizek-o-circulo-de-giz-de-jerusalem/
You e and whose army?
Luiz Felipe Monteiro
 Você e o exército de quem? Essa é a pergunta estendida ao espectador da cena inicial do filme Incêndios (2011) de Denis Villeneuve. É o título da música do Radiohead, que ouvimos quando vemos meninos árabes tendo seus cabeças raspadas por homens de armas. Dentre eles há um que desafia a câmera em primeiro plano, e é pelo furo do seu olhar que entramos no filme. Ao fim dessa cena de abertura ainda se consegue ouvir: “Você e o exército de quem?/ Você esquece tão fácil/ Que esta noite nós cavalgamos/ Cavalos fantasmas”.
Você e o exército de quem? Essa é a pergunta estendida ao espectador da cena inicial do filme Incêndios (2011) de Denis Villeneuve. É o título da música do Radiohead, que ouvimos quando vemos meninos árabes tendo seus cabeças raspadas por homens de armas. Dentre eles há um que desafia a câmera em primeiro plano, e é pelo furo do seu olhar que entramos no filme. Ao fim dessa cena de abertura ainda se consegue ouvir: “Você e o exército de quem?/ Você esquece tão fácil/ Que esta noite nós cavalgamos/ Cavalos fantasmas”.
São desses fantasmas de guerra que os personagens de Incêndios são atravessados. A história começa quando dois irmãos gêmeos recebem o testamento da mãe recém-falecida. Nele, a mãe pede aos filhos que entreguem uma carta a um irmão que não sabiam existir e a um pai, supostamente, já falecido. O pedido incluía ainda um enterro no qual seu corpo estivesse virado para o chão, sem roupa e sem caixão, até que os as cartas chegassem aos destinatários. Só depois da missão concluída, ela deveria ser enterrada com lápide e inscrição de nome. Achar o irmão e o pai implicava procurá-los em um país distante, de onde a mãe emigrou há muitos anos. País cujo conflito entre árabes e cristãos marcou a história da família. O restante do filme conta a jornada dos gêmeos para descobrir o não-sabido sobre a mãe. Um saber que afinal atravessa, 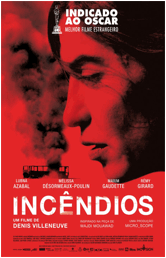 fundamentalmente, suas próprias vidas.
fundamentalmente, suas próprias vidas.
O conflito armado entre árabes e cristãos é o cenário para a montagem do impasse desta mãe: quando jovem ousou amar um homem árabe e com ele ter um filho. “Como pode 1 + 1 ser igual a 1?” essa é a pergunta que, em um momento chave do filme, interpreta o desejo desta mulher morta.
Vocês verão que os impasses da matemática pura tem um lugar neste filme... Como na psicanálise, o impasse lógico das letras matemáticas, testemunham, e ao mesmo tempo, reenviam ao destinatário da cadeia significante um Real em jogo. O 1 insistente na cadeia parece fazer função de um reenviar um impasse lógico ao próximo elemento da cadeia numérica, da cadeia significante ou da cadeia familiar. A guerra não deixa de ser um contexto discursivo para atualizar esse impasse e fazê-lo transmitir à próxima geração. Incêndios mostra como, nesse reenvio e repetição de um Real, não há na guerra apenas fogo, há também, vez ou outra, fogo fátuo.
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=DFsgpuu4Lew
P.S. Incêncios é baseado na peça de Wajdi Mouawad, dramaturgo canadense-libanês. No link: https://www.youtube.com/watch?v=XWIY3gwhc6k o autor participa de um debate no qual discute o tema da violência em sua obra. Vale a pena conferir. Para quem estiver em São Paulo, entre Setembro de Dezembro deste ano, a montagem de Incêndios estará em cartaz no Teatro FAAP com Marieta Severo e direção de Aderbal Freire-Filho.

Deu no Lacan Cotidiano - 401: UMA ATUALIDADE - FREUD E A GRANDE GUERRA, DE MARLENE BELILOS.
Acesse o site: lacanquotidien.fr.






